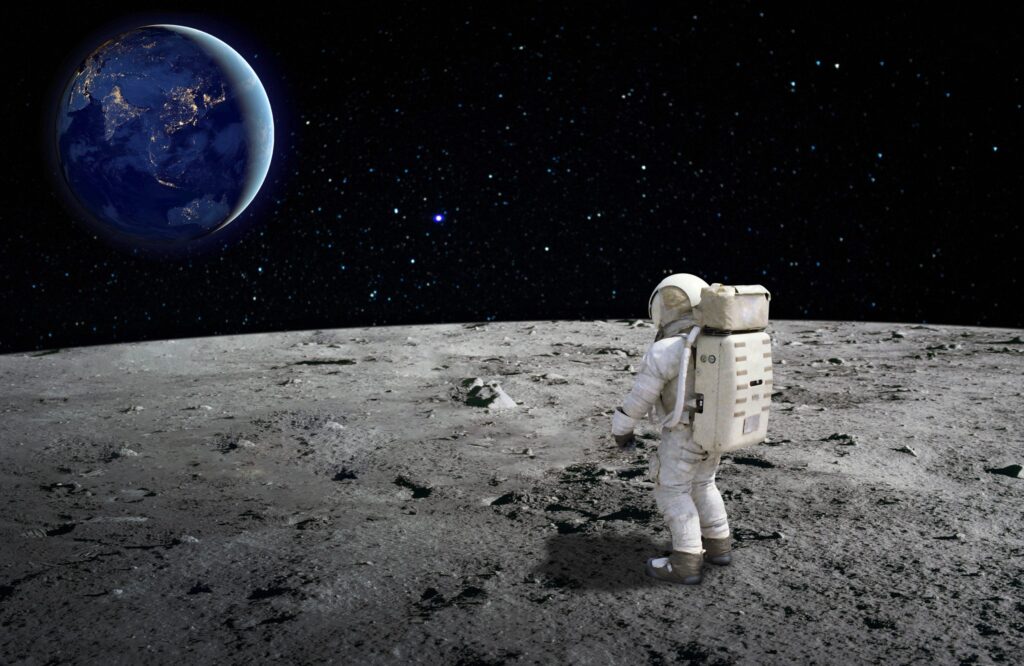Pode parecer estranho, mas há uma frase tecnicamente correta que deixa muita gente confusa: nenhum astronauta, nem mesmo quem já foi à Lua, saiu de verdade da atmosfera da Terra. Oi?
Bem, isso não significa que a ida ao espaço seja mentira nem tem relação com qualquer teoria da conspiração. A questão-chave está em como definimos a “atmosfera”.
Mesmo a Estação Espacial Internacional (ISS), que orbita a Terra a cerca de 400 km de altitude, ainda está dentro de uma camada muito fina da atmosfera. Lá em cima, os astronautas sentem uma gravidade apenas um pouco menor do que sentimos aqui no solo – cerca de 90% da força total.
O que mantém a ISS em órbita, apesar de estar em uma região com ar rarefeito, é sua velocidade. No entanto, esse ar ainda exerce resistência. Por isso, a estação precisa periodicamente ser “empurrada” por espaçonaves como as cápsulas Progress, da Rússia, e (mais recentemente) Dragon, da SpaceX. Sem isso, ela desaceleraria e acabaria caindo de volta à Terra.
Em um vídeo publicado no canal da NASA no YouTube, o especialista em heliofísica Doug Rowland explica que a atmosfera não termina de forma brusca. Ela vai ficando cada vez mais tênue, mas segue existindo até altitudes impressionantes. É como se o “ar” fosse se dissolvendo devagar, quase sumindo, mas nunca desaparecendo por completo.
Até onde vai a atmosfera da Terra?
Para fins legais e operacionais, a comunidade internacional adota um limite chamado “linha de Kármán”, a 100 km de altitude, acima do qual consideramos oficialmente que começa o espaço. No entanto, essa fronteira é apenas uma convenção, pois a atmosfera vai muito além dela.
Um estudo de 2019, feito com dados do Observatório Solar e Heliosférico (SOHO, na sigla em inglês), revelou que a atmosfera terrestre – mais especificamente uma nuvem de hidrogênio chamada geocorona – pode se estender por até 630 mil km. Isso significa que até a Lua, que fica a cerca de 384 mil km, estaria dentro da atmosfera.

Nesse estudo, cientistas detectaram cerca de 70 átomos de hidrogênio por centímetro cúbico a 60 mil quilômetros da Terra. Na altura da Lua, ainda havia em média 0,2 átomo por centímetro cúbico. Esses números são muito baixos, mas suficientes para mostrar que a atmosfera se prolonga muito mais do que se imaginava.
O autor principal do estudo, Igor Baliukin, do Instituto de Pesquisa Espacial da Rússia, afirmou em um comunicado na época que essa descoberta só foi possível ao revisitar observações feitas há mais de 20 anos. Isso mudou a forma como entendemos os limites do planeta.
Leia mais:
E há outro detalhe: a própria Terra, junto com a Lua, está mergulhada na atmosfera do Sol, chamada heliosfera. Essa imensa bolha de partículas solares envolve todo o Sistema Solar e só termina na chamada heliopausa, muito além de Plutão.
“O ponto forte deste estudo é apontar até onde se estendem os limites da atmosfera terrestre”, explica Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA), membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON) e colunista do Olhar Digital.
“Nós já sabíamos que a exosfera, camada mais externa da nossa atmosfera, se estende por várias dezenas de milhares de quilômetros acima da superfície da Terra, o que já incluiria grande parte das nossas viagens espaciais tripuladas”, disse o especialista. “Mas, o que esse estudo russo mostra agora é que nem mesmo os astronautas da Apollo 13, os seres humanos que mais distantes estiveram do nosso planeta (400 mil km), nem mesmo eles chegaram a deixar nossa atmosfera. É curioso, mas não diminui em nada o tamanho das conquistas alcançadas por nossos exploradores do espaço”.
Mas, e quanto ao termo “reentrada na atmosfera”, usado para dizer que um objeto retornou ao planeta? Zurita explica que ele continua fazendo sentido, pois se refere a atravessar as camadas mais densas, onde a resistência do ar é forte o bastante para queimar as espaçonaves.
No fim das contas, a pergunta “onde começa o espaço?” não tem uma única resposta. Depende de para que você quer saber. Para fins técnicos, usamos a linha de Kármán. Para fins científicos, é uma zona de transição longa e gradual.